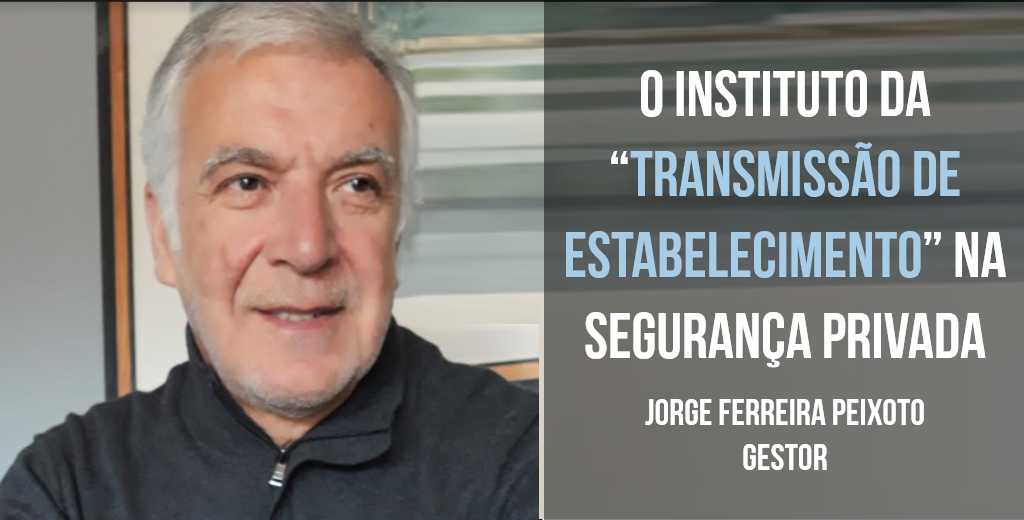Por Jorge Ferreira Peixoto, Gestor
A oportunidade (e relevância) da questão justifica-se diante do entendimento que alguns senhores governantes e deputados estão a fazer sobre a aplicabilidade na segurança privada (SP), particularmente nos casos em que as empresas se sucedem na titularidade dos contratos com clientes, dum instituto consagrado no Código do Trabalho (CT): a “Transmissão de Estabelecimento”. Entendimento convergente, diga-se, com a posição defendida pela Associação das Empresas de Segurança (AES) e conflituante com a defendida pela Associação Nacional de Empresas de Segurança (AESIRF). Acompanhada por outras preocupações no sector, como os baixos preços e as irregularidades no cumprimento pontual das obrigações das empresas perante os seus trabalhadores, este assunto foi objecto de audições parlamentares aos parceiros sociais, resultando ainda em dois projectos de resolução: um por parte do PCP (252/XIV/1ª) e outro por parte do Bloco de Esquerda (191/XIV/1ª).
O Contexto Jurídico
Importa situarmo-nos na questão, fixando os conceitos definidos no Código do Trabalho (CT) e nos Instrumentos de Regulação Colectiva de Trabalho (IRCT), quanto ao instituto da Transmissão de Estabelecimento.
O artº 285 do CT impõe a transmissão dos contratos de trabalho, … nos casos de transmissão, a qualquer título, da titularidade da empresa, ou estabelecimento ou ainda de parte de empresa ou estabelecimento que constitua uma unidade económica.
Em 19 de março de 2018, o CT veio a ser alterado, quanto ao regime da transmissão de estabelecimento, através da publicação da Lei nº14/2018. Nela se estende a transmissão, à … cessão ou reversão da exploração da empresa, estabelecimento ou unidade económica…
Dando por certo que os conceitos de empresa, parte de empresa ou estabelecimento se encontram bem estabilizados, restará perceber o conceito de unidade económica que o legislador, de resto, se encarregou de facilitar: … conjunto de meios organizados que constitua uma unidade produtiva dotada de autonomia técnico-organizativa e que mantenha identidade própria, com o objectivo de exercer uma actividade económica, principal ou acessória (nº5, do artº285 do CT).
E assim surge a questão essencial a ser respondida:
– à luz do disposto no CT, pode um contrato celebrado com um cliente, e todos ou parte dos meios aplicados, ser considerado parte de empresa ou estabelecimento dotado dos pressupostos para se constituir como uma unidade económica susceptível de ser transmitida?
Os tribunais têm apreciado de forma casuística, aferindo a cada momento e em cada circunstância da transmissibilidade dos contratos de trabalho, procurando os pressupostos que a possam, ou não, consagrar. E por isso não faltam exemplos de decisões em que os tribunais apoiam a oportunidade da transmissão e outros em que não reconhecem os pressupostos essenciais à sua concretização, designadamente o reconhecimento da presença duma unidade económica tal como definida no CT. O mais recente exemplo de decisão contrária à transmissão dos contratos de trabalho num serviço de SP, e justamente por não terem sido considerados bastantes os fundamentos para o reconhecimento duma unidade económica, aconteceu em 20 de janeiro último, no Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este (acção de processo comum nº 1183/19.1T8PNF).
Assim, não decorre do CT qualquer imperativo de transmissão dos contratos de trabalho nos casos de trocas de clientes entre empresas de SP por força da sua acção comercial. É necessário que o tribunal reconheça a existência da unidade económica, e nem sempre encontra as circunstâncias que a validam.
Para ultrapassar este constrangimento nos seus intentos, a AES e o Sindicato dos Trabalhadores de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas (STAD) afastaram a necessidade da verificação do conceito da unidade económica do seu Contrato Colectivo de Trabalho (CCT), promovendo uma transmissão automática sempre que um cliente troca de empresa de SP. A AESIRF/ASSP, porém, não prescindiu do disposto no CT, continuando necessária a verificação do conceito de unidade económica para que a transmissão se materialize.
Vejamos. A AES e o STAD entenderam introduzir no seu contrato um modelo em que a transmissão dos contratos dos trabalhadores é automática, sempre que uma empresa SP se sucede a outra na titularidade do contrato com o cliente; ou mesmo ao próprio cliente nos casos em que este opte pelo regime de auto-protecção. Tudo em nome da segurança do emprego e manutenção dos postos de trabalho, e excluindo o conceito de unidade económica previsto no CT como condição de transmissão.
Reproduzindo a agora reformulada clausula 14ª do seu Contrato Colectivo de Trabalho: A presente cláusula regula a manutenção dos contratos individuais de trabalho em situações de sucessão de empregadores na execução de contratos de prestação de serviços de segurança privada, tendo por principio orientador a segurança do emprego, nos termos constitucionalmente previstos e a manutenção dos postos de trabalho potencialmente afetados pela perda de um local de trabalho ou cliente, pela empresa empregadora e, desde que, o objeto da prestação de serviços perdida tenha continuidade através da contratação de nova empresa ou seja assumida pela entidade a quem os serviços sejam prestados e quer essa sucessão de empresas na execução da prestação de serviços se traduza, ou não, na transmissão de uma unidade económica autónoma ou tenha uma expressão de perda total ou parcial da prestação de serviços.
Afastar o critério da unidade económica do instituto da transmissão de estabelecimento foi absolutamente necessário aos objectivos desta Associação e deste Sindicato. Não é fácil reconhecer-se numa equipa de trabalhadores de SP colocada num qualquer cliente, a autonomia técnica-organizativa bastante ao exercício desta actividade económica. Uma breve consulta à Lei da Segurança Privada, logo nos dará um sem fim de condições, regras e regulamentos que impossibilitariam a sua concretização (número mínimo de trabalhadores, alvarás, fardamentos, central de contacto permanente, etc…, etc…).
A opção da AESIRF e da Associação Sindical de Segurança Privada (ASSP) no CCT que celebraram, remetem a questão da transmissão para o Código do Trabalho, muito embora salvaguardem a eventualidade da transmissão dos contratos de trabalho se poder concretizar através dum acordo escrito entre o transmitente, o transmissário e os trabalhadores abrangidos, regulando ainda as responsabilidades pelas remunerações a serem liquidadas aos trabalhadores.
E assim chegamos a dois contratos colectivos na segurança Privada (nunca antes tinha acontecido). Um outorgado pela AES/STAD e outro pela AESIRF/ASSP. Em tudo idênticos, diga-se, excepto a profunda e gravosa divergência quanto ao conceito da transmissão de estabelecimento, cujas consequências se apreciam adiante.
Por tudo isto, não é lícito afirmar-se, como o têm feito alguns senhores governantes e deputados, que as empresas violam a lei quando rejeitam essas transmissões. Opções políticas ou impulsos ideológicos, são legítimos. Mas, se distorcem a realidade jurídica, seja por desconhecimento ou por “excesso de convicção”, nada acrescentam à questão e só ampliam distâncias que se desejavam ver reduzidas. Melhor seria se em vez desses impulsos que muito dividem e pouco resolvem, o Estado cuidasse de fazer cumprir a lei na contratação pública, particularmente a proibição da contratação com prejuízo. Acontece que em todos os casos concretos de contratação que suscitaram intervenções públicas mais ou menos mediáticas – Infraestruturas de Portugal (IP), Segurança Social, ACT, e IEFP, – os contratos celebrados estão feridos por essa ilegalidade. Todos, sem excepção, resultaram em contratação com prejuízo, proibida por lei desde a revisão da Lei de Segurança Privada (lei nº46/2019 de 8 de julho) e, ironicamente, com consequências desastrosas para os trabalhadores envolvidos.
Colocados os termos jurídicos essenciais da questão, importará perceber-se o impacto que poderá ter nesta indústria um conceito de transmissão de estabelecimento tão difuso quanto o proposto pela AES e pelo STAD.
O Trabalhador e o Mercado
E pode começar-se pelos próprios trabalhadores. A alteração dos termos da transmissão dos contratos de trabalho introduzida pela AES, só é aceitável numa perspectiva de ampliação ou favorecimento dos direitos dos trabalhadores. Doutro modo não seria legalmente admissível.
Mas será que favorece os trabalhadores ou amplia os seus direitos? A resposta a esta pergunta é simples: depende.
A transmissão de estabelecimento é uma via de dois sentidos. Umas vezes os trabalhadores são transmitidos duma grande empresa para uma pequena e outras duma pequena para uma grande empresa. E noutras, o transmitente é uma empresa tendencialmente cumpridora e outras o transmissário é uma empresa flagrantemente incumpridora.
Atente-se no caso concreto da Direcção Geral da Administração da Justiça (DGAJ) que precipitou todo este interesse político e até mediático, onde se materializou a transmissão dos contratos de trabalho dos agentes de SP da empresa STRONG para empresa COPS. A julgar pelas acções sindicais e pelas notícias vindas a público sobre a falta de pontualidade no pagamento de salários e outras irregularidades, esta transmissão tem resultado em graves prejuízos para os trabalhadores transmitidos.
Este exemplo vem confirmar alguns dos receios das empresas e muitos dos seus trabalhadores em relação ao futuro desta indústria, convidando a uma reflexão mais aprofundada acerca do impacto que o modelo de transmissão AES/STAD poderá ter no futuro desta indústria.
Esta nova posição em matéria de transmissão dos contratos de trabalho entre as empresas que se sucedem na prestação dos serviços coloca a indústria entre duas proposições bem distintas:
– o vínculo contratual estabelece-se entre o trabalhador e a empresa de SP, deslocando-se entre os clientes do seu empregador sempre que tal seja necessário por conveniência operacional ou por termo da relação comercial das partes;
– o vínculo contratual (de facto) do trabalhador é com o local onde presta serviço e as empresas de SP que consigo outorgam contratos de trabalho apenas se constituem como “muletas” para cumprir a lei da segurança privada (que exige vínculo contratual a uma empresa de SP para o exercício da sua profissão).
A primeira remete-nos para um modelo de prestação de serviços que serviu a constituição e desenvolvimento desta indústria. Cedo se enunciaram e se reconheceram vantagens das empresas em entregarem a protecção das suas pessoas e património a entidades terceiras. Para além de processos especializados e profissionais com competências próprias para o exercício daquelas funções, a nova indústria apresentava-se com recursos humanos e técnicos, que aplicava e geria, assegurando uma independência difícil de obter quando as empresas se socorriam dos seus próprios meios.
Esta independência podia, inclusive, ser reforçada por critérios de rotatividade dos elementos da segurança, garantindo o necessário distanciamento, essencial à protecção de riscos internos. A tradução dum verdadeiro conceito de prestação de serviços em que o cliente vê materializado o objecto do contrato que celebra – a protecção das suas pessoas e património, lactu sensu -, cuidando a empresa de SP de prover, organizar, tutelar e gerir os meios que entendesse aplicar. No fundo, uma prestação de serviços igual a outras em que se estabelecem contratos que têm subjacente uma relação de confiança. Podiam equivaler-se, por exemplo e em idênticas circunstâncias (através de equipas de profissionais deslocadas a tempo inteiro em clientes), a serviços jurídicos prestados por alguma sociedade de advogados ou até serviços de auditoria prestados por alguma consultora. Não são mais nem menos dignos.
A segunda proposição desconstrói aquele modelo de negócio, imprimindo-lhe um rumo radicalmente diferente, em que as empresas de SP pouco mais ambicionam do que intermediar as remunerações dos clientes e os salários dos trabalhadores de SP. Decorrendo a estabilização do “vínculo ao local”, cedo se coloca em crise a subordinação jurídica, autoridade e direcção a que o trabalhador está sujeito, projectando-o para a cultura organizacional do cliente e até para a sua hierarquia (funcional). Adivinhando-se até, em alguns casos, a tendência da própria estrutura do cliente assumir essa direcção e autoridade dentro de um quadro jurídico estricto e que só vincula as empresas de SP. Ou seja, o cliente a dar instruções (e ser obedecido) em matérias cuja responsabilidade é exclusiva das empresas de SP e que podem ter consequências até penais (v.g: caso das revistas pessoais).
Esta abordagem ao instituto da transmissão de estabelecimento faz alastrar uma “ferida” que já tinha sido aberta com a responsabilidade solidária em que as obrigações com salários e encargos com trabalhadores podem agora ser partilhadas por empresas de SP e clientes. Entendem-se os propósitos. Contudo, esta partilha é, antes de mais, um atestado de menoridade que a indústria passa a si própria, já que a vinha publicamente proclamando como uma das terapias da concorrência desleal, e também uma demissão do Estado que “aproveita a boleia” para transferir para o mercado uma responsabilidade que é sua. A função fiscalizadora do Estado que devia promover a igualdade entre os contribuintes fica assim aliviada.
Aceder a uma prestação de serviços que o solidariza com as obrigações sociais, fiscais e parafiscais do seu provedor, a que se acrescenta agora um vínculo reforçado aos trabalhadores por via da sua sedentarização, – ainda que se mude o provedor ou até se opte pela auto-protecção -, irá certamente contribuir para um comportamento diferente por parte do mercado. O limite será a rejeição de serviços, cujas principais virtudes do outsourcing deixam de estar presentes, e o consequente retorno à auto-protecção; a consequência menor poderão ser exigências administrativas ou cautelares que mitiguem os seus riscos induzindo, contudo, custos de contexto que ora encarecem os serviços ora encurtam margens.
Aliás, impor-se ao cliente a transmissão dos contratos de trabalho nos casos em que aquele opte pela auto-protecção contradiz até uma das bandeiras do governo na gestão dos agentes da PSP. Ainda há poucas semanas, no debate quinzenal da Assembleia da República realizado a 18 de fevereiro, o primeiro ministro recordava a uma deputada a intenção de internalizar muitos dos serviços que hoje estão entregues a empresas de segurança privada, afectando-se para tanto a esses serviços agentes com condição física, disse, não suficiente para as suas actividades normais de polícias de segurança pública. Parece que, pelo menos no Estado, vamos voltar ao tempo em que para “a porta” se enviavam os menos capazes ou até os estropiados por acidentes de trabalho. Estranha-se a opção e sobretudo as razões.
Não sendo a segurança do património do Estado, dos seus funcionários e dos próprios utentes, um aspecto menor, o facto é que o senhor primeiro-ministro, ao afirmar a sua internalização naqueles termos e com aqueles agentes, ou demonstrou estar a léguas do que o CCT da AES/STAD pretende impor ou então declarou que o Estado não se irá submeter às conveniências daquela associação empresarial e daquele sindicato, e irá fazer “vista grossa” do disposto no CCT que assinaram. O que até parece sensato, independentemente, repete-se, de qualquer consideração sobre os méritos jurídicos da questão. Parece sensato que um cliente que opte pela auto-protecção não tenha de incorporar nos seus quadros os trabalhadores até aí vinculados à empresa de segurança privada que lhe fornecia os serviços. Mesmo porque uma decisão de internalização de serviços pode estar relacionada com dificuldades numa empresa. E se isso acontece, não se vislumbra qualquer vantagem para o contrato do trabalhador ser imperativamente transmitido. Contraria até o fundamento principal da cláusula do CCT que, como qualquer outra, se propõe garantir melhores condições do que as estabelecidas no CT.
Entretanto, a aposta no desenvolvimento de competências e qualificação dos trabalhadores, como indutor de valor acrescentado e diferenciação, irá ser inevitavelmente secundarizada, limitada às imposições legais e regulamentares. O retorno esperado de qualquer investimento em capital humano está, no modelo de transmissão automática dos contratos de trabalho, irremediavelmente comprometido. E com a quebra da produtividade daí resultante, essencial para a evolução dos salários, estão os trabalhadores condenados à condição de indiferenciados. Empresas limitadas à competição pelo preço reduzem os seus custos ao mínimo indispensável. Afinal, quem for o mais eficiente no domínio da despesa será também o mais competitivo.
Os Parceiros Sociais
Os contratos colectivos de trabalho, sucessivamente celebrados ao longo de muitos anos entre as associações empresariais (AESIRF e AES) e os sindicatos (STAD e FETESE), sempre foram consensuais acerca da aplicabilidade na segurança privada do instituto da transmissão de estabelecimento. Aplicavam-se à aquisição de empresa ou parte de empresa, afastando, explicitamente, as perdas de clientes no decurso da actividade comercial das empresas. A integração noutros clientes ou, no limite, o recurso ao despedimento do número de trabalhadores que se encontravam afectos a um contrato perdido (podiam não ser sequer os trabalhadores directamente afectos a esse cliente) era a solução das empresas. Como acontece aliás em qualquer outra empresa, de outra qualquer indústria, sempre que se confronta com a necessidade de reduzir trabalhadores, seja por quebra na procura, avanços tecnológicos, ou outras razões.
Aquilo que parecia estabilizado começou por ceder a interpretações de conveniência económica, mas ainda com a oposição das Associações, e mais tarde, e por iniciativa duma empresa associada da AES, a clausula que afastava o instituto da transmissão de estabelecimento acabou por ser declarada nula pelos Tribunais. A transmissão de estabelecimento, referiram os tribunais, teria de ser validada caso a caso.
Numa atitude que mais parece táctica do que estratégica, a AES não se quis sujeitar à apreciação casuística e tratou de verter para o seu CCT a transmissão dos contratos de trabalho sempre que uma empresa suceda a outra, ainda que não se encontre reconhecida a unidade económica. Assim, sem mais, sem cuidar sequer de estabelecer até onde vão as responsabilidades sociais do transmitente e do transmissário. Por um lado, não se quis sujeitar ao CT e por outro deixa nos seus braços (ou na sua letra) a responsabilidade pelos pagamentos dos trabalhadores.
Nada como um exemplo prático: com efeitos a 1 de dezembro de 2019, a empresa que detinha o contrato com a Infraestruturas de Portugal, pretendeu impor às duas empresas que a sucederam (o contrato foi dividido em dois lotes), os mais de 400 trabalhadores que aí trabalhavam. Uma delas não aceitou a transmissão, admitindo quem quis trabalhar num contrato ex-novo, e a outra, ao que consta, em nada se opôs, mas também nem paga como o CCT estabelece, e às vezes nem paga sequer. E assim, lançou aquela empresa o caos no sector, e os trabalhadores no maior dos desesperos sem saberem onde pertencem e quem lhes vai pagar, enquanto os informava, por carta, que já não eram seus trabalhadores. “Lavaram as mãos”, e ficam cinicamente a aguardar por uma decisão dos tribunais que pode demorar anos. Entretanto, livrou-se de mais de 800 mil euros de obrigações contraídas com os trabalhadores. Recorda-se que os proporcionais de férias e subsídios de férias se adquirem ao longo do contrato de trabalho mas só se vencem em 1 de janeiro do ano seguinte. Por isso, essa empresa acabou por se livrar do pagamento de onze duodécimos de férias e subsídios de férias devidos a esses trabalhadores, sabendo que os ia lançar num mundo de créditos irrecuperáveis. Inadmissível.
Este modelo de transmissão ainda enferma do vício de condenar a concorrência. Doravante as empresas que queiram desafiar uma posição estão em clara desvantagem perante a empresa instalada. Podem, à partida, receberem obrigações para as quais nunca adquiriram direitos.
Por isso, não se compreendem os senhores deputados tão ciosos da transmissão imperativa e tão simpáticos com as posições da AES/STAD, reclamando, ao mesmo tempo, grande solidariedade com os trabalhadores. A AES ousou até, num momento quase lírico, mas de que não se estranharia consequência, propor a introdução na Lei da Segurança Privada do instituto da transmissão de estabelecimento nos modos em que a concebeu e aprovou. Uma Lei de Segurança Privada, diga-se, que além de reguladora da actividade de SP, já interfere no direito trabalho (responsabilidade solidária) e nas competências da Autoridade da Concorrência (venda com prejuízo). Enfim, uma lei cada vez mais abrangente e, pressente-se, cada vez mais inconsequente.
Por maioria de razão, menos se compreende a posição do STAD que alimentou esta cisão sabendo (ou tendo obrigação disso) das consequências que iam daí resultar para os trabalhadores. Defende a transmissão e depois junta-se e promove greves dos trabalhadores transmitidos que não recebem salários. Mal vai o sindicato.
Recorde-se que o CCT da AESIRF/ASSP, para além de validar toda a transmissão que mereça o acordo das partes, trabalhador, transmitente e transmissário, ainda define a quem competem os pagamentos dos salários, conferindo, como não podia deixar de ser, a liberdade de oposição do trabalhador. Neste aspecto é bem mais equilibrado quer para o trabalhador quer para a própria indústria.
O Impasse
Enquanto o Estado não se libertar de um modelo de governance em que cada instituição se preocupa mais com a eficiência no gasto do que com os méritos do seu retorno, e onde cada um pugna por resultados, não raro descontextualizados e discordantes do todo que é o Estado, não será possível inverter-se a lógica da procura do menor preço a qualquer custo, assim se continuando a favorecer quem vive na franja da lei ou mesmo à sua margem. Continuam, ao dia de hoje, a proliferar anúncios de concursos públicos em que o preço base não basta sequer ao cumprimento das obrigações das empresas com salários e encargos. E assim, a transmissão dos contratos de trabalho dos trabalhadores de SP continuam a tender no sentido das empresas incumpridoras.
Os projectos de resolução do BE e PCP, referidos no início, pouco acrescentam à questão, revelando até maior convicção do que preparação e conhecimento.
O BE insiste que as empresas devem cumprir a legislação sobre a transmissão de estabelecimento, querendo com isto dizer que as empresas que não aceitaram os trabalhadores que outras lhe pretendiam transmitir, se encontram no domínio da ilegalidade. Uma estranha persistência numa ideia que sabe (ou devia saber) ser falsa. Propõe inclusive a resolução dos contratos celebrados com as empresas que não aceitaram o modelo de transmissão da AES/STAD. Além disso faz eco duma ideia recorrente no sector e perfilhada por alguns empresas: a necessidade de referência a preços mínimos que impeça práticas de dumping e respeitem os direitos laborais. Ora a ideia dos preços mínimos, como se sabe, constrange sempre a Autoridade da Concorrência, e não erradica qualquer má prática. Não é o preço mínimo que vai modificar o comportamento das empresas, para além de ser de difícil fixação. Pode até acontecer que daqui resultem melhores margens para as empresas incumpridoras (pois os preços que hoje seguem apresentando em concursos são muito inferiores ao que podia ser qualquer referência mínima de preço). Os preços mínimos nunca são solução.
O PCP admite a preferência pelo modelo de transmissão da AES/STAD, e depois afirma no seu projecto que na actual situação algumas empresas estão a descartar-se dos trabalhadores. Convenhamos que deverá pedir contas ao STAD, sindicato da sua zona ideológica, que sancionou um modelo de transmissão que ao não recolher a unanimidade nos parceiros sociais precipitou o caos social no sector. Acaba confessando a sua natureza, demandando a gradual integração dos trabalhadores de SP nos quadros do Estado e a consequente internalização dos serviços.
Diga-se a propósito, que apesar da ideologia subjacente a esta proposta do PCP, ela acaba por se conciliar com os princípios da relação laboral. No modelo de transmissão AES/STAD o maior vínculo (efectivo) do trabalhador é com local, mais do que com a empresa de SP que o enquadra. Ora se os serviços são prestados de forma continuada e permanente, e uma vez que o carácter técnico que lhe emprestava a empresa de SP perde valor, então, a solução da auto-protecção parece a mais adequada e a de melhor subordinação jurídica.
As duas resoluções referem ainda, e muito bem, a necessidade do reforço das equipas de fiscalização. Saúda-se o seu apoio a uma necessidade que já está bem identificada há mais de uma década, e que já mereceu contributos de todos os parceiros sociais e das próprias autoridades, culminando com a formação de equipas inspecção multi-disciplinares, capazes de acções de inspecção por fluxo (área regulamentar da SP, trabalho, segurança social e área tributária). Logo veremos se o momento dá um novo fôlego a estas equipas que chegou a dar bons resultados nos curtos e episódicos momentos em que foi capaz de actuar. Este é, sem dúvida, o caminho a seguir.
Para já, e enquanto a indústria não sair deste impasse, o futuro proposto pelo CCT da AES/STAD parece condenar as empresas a “parques de mão-de-obra”, uma espécie de ilha de Gorée, onde os trabalhadores nem sequer têm o direito de escolher o “patrão”.