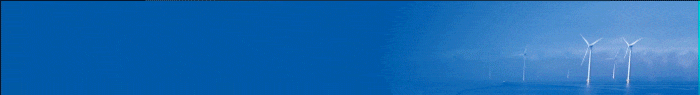Júlio Gouveia-Carvalho, tenente-coronel do Exército português, é um dos 17 especialistas a integrar, desde Setembro, o Health Security Interface – grupo técnico de aconselhamento e consulta da Organização Mundial de Saúde e presta serviço na Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química do Exército. Em entrevista à Security Magazine destacou a importância deste grupo, bem como o trabalho desenvolvido pela unidade e os principais desafios na área da defesa biológica.
Security Magazine – Como foi o seu percurso até chegar às suas actuais funções?
Júlio Gouveia-Carvalho – Sempre quis ser médico veterinário. O meu percurso começa com o ingresso na Faculdade de Medicina Veterinária. Depois de concluir o curso integrei o Exército. A própria Faculdade de Medicina Veterinária foi criada no Exército em 1830. Há uma ligação muito grande entre a Medicina Veterinária e o Exército e é um serviço que tem muitas oportunidades, sendo que se trabalha com cavalos, cães, animais de grande porte e na área da segurança alimentar tem um peso muito forte.
Na área da defesa biológica, que tem a ver com a componente laboratorial e investigação, o Exército tem um conjunto de oportunidades no serviço de veterinária que são aliciantes para quem gosta de ser médico veterinário. Após passar por várias funções, estou aqui desde 2006, ano da criação do nível de segurança 3 (BSL3) deste laboratório.
A que se dedica o Laboratório de Bromatologia e Defesa Biológica do Exército?
Este laboratório existe desde 1916, tendo sido criado para apoiar a Primeira Guerra Mundial, principalmente os cavalos que eram o grosso da coluna no teatro da guerra na Europa. Inicialmente chamava-se Laboratório de Bacteriologia, Análises Clínicas e Bromatológicas. Naquela altura, houve vários surtos de doenças com importância em termos de guerra e terrorismo biológico.
Houve, no fundo, uma especialização em defesa biológica?
Sim, a partir de 2006 começámos a especializarmo-nos na componente de defesa biológica, que tem a ver com todo o tipo de ameaças relacionadas com agentes biológicos / infecciosos. Essencialmente, temos doenças humanas, animais e vegetais, e que podem ter impacto no ambiente – o conceito de “uma só saúde”.
Em termos da origem da ameaça, esta pode ser de ocorrência natural, acidental ou intencional.
A Legionella, por exemplo, foi resultado de uma libertação acidental. No mundo, tivemos casos de bioterrorismo e programas ofensivos de armas biológicas, sendo que felizmente o seu uso foi proibido em guerra em 1925. A proibição do seu fabrico, produção e desenvolvimento é de 1972, tendo entrado em vigor em 1975. De qualquer forma, é sempre uma ameaça latente para os países em termos securitários, no sentido do Security e não do Safety, pois tem a ver com a possibilidade de emprego intencional de agentes biológicos com o intuito de provocar doença ou terror. Esse é o nosso principal foco.
Como evoluiu o laboratório ao longo dos anos?
Ao longo destes anos, criámos um ecossistema único no Exército, no qual temos a Companhia NBQ que tem as componentes Nuclear, Biológica e Química em termos operacionais. No laboratório temos a componente laboratorial de rotina e de investigação. Estas três componentes – investigação cientifica, laboratório de rotina e operacional da Companhia de Defesa NBQ – fez emergir o Elemento de Defesa Biológica, Química e Radiológica.
Esta tríade entre a componente laboratorial, investigação e operacional tornou o Exército num player reconhecido mundialmente. É na interface destas três componentes que se cria uma capacidade diferenciadora a nível internacional. É também por isso que o exercício Celulex tem captado muita atenção internacional, nomeadamente nas Nações Unidas. Hoje temos muitas entidades que vêm treinar aqui, nomeadamente a Organização Mundial da Saúde (OMS), FAO, Organização da Saúde Animal ou a UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs ), componente das Nações Unida para o desarmamento e muitas instituições mundiais como o Instituto Robert Koch, Kings College London, Instituto de Defesa Biológica, Química e Radiológica do Brasil, Escola de Interarmas de Defesa de Itália, regimentos espanhóis, entre outras.
Referiu que o laboratório é actualmente de nível 3 em termos de biossegurança, numa escala de 4. Esta evolução é algo recente?
Aconteceu em 2006. Antigamente não existiam estes níveis de biossegurança. A Microbiologia em Portugal começou na Medicina Veterinária, sendo que o primeiro laboratório de Microbiologia surgiu na Faculdade de Medicina Veterinária. No século XIX, com o primeiro laboratório, morreram, pelo menos, quatro investigadores com doenças nas quais estavam a trabalhar. Isto porque eram pioneiros na Microbiologia e estavam a trabalhar com agentes sobre os quais desconheciam se provocavam doenças.
A biossegurança é um conjunto de condições criadas para proteger as pessoas que estão nos laboratórios, no sentido de não se infectarem com as doenças nas quais estão a trabalhar e tem sido desenvolvida ao longo do tempo. A certa altura, foram criados “níveis” para poderem ser uniformizados mundialmente. É nesta altura que se institui que para se trabalhar com determinados agentes têm de existir determinadas condições de segurança. Como a maioria dos agentes de guerra biológica e bioterrorismo tem de ser trabalhada em laboratórios de nível BSL 3, o Exército teve este projecto de fazer um laboratório de nível de segurança 3, com base no que já existia mas que não tinha essas categorias de biossegurança.
Em Portugal este é o único laboratório com estas características e BSL 3?
Com BSL 3 existem vários laboratórios em Portugal. Existe inclusive uma rede de laboratórios organizada pelo Instituto Nacional de Saúde. Porém, nos vários laboratórios com BSL 3 existem características diferentes. Por exemplo, aqui trabalhamos com um isolador que traz um nível de segurança acima do standard normal. Existe aqui um conjunto de coisas que nem todos os laboratórios BSL 3 têm, como autoclave de duas portas, antecâmara, pressão negativa, entre outros.
Qual o dia-a-dia deste laboratório e qual a importância desta unidade?
Os laboratórios que fazem parte de um país e são do Estado funcionam como sensores. No caso do security existem várias ameaças em termos do ambiente externo e, por isso, é importante a existência deste tipo de laboratórios.
Esta importância ficou evidente durante a pandemia, na qual participámos em toda a linha, desde o planeamento estratégico, operacional, acções de descontaminação e contenção, bem como análises da situação e avaliação de risco. Isso foi possível porque andámos muitos anos a prepararmo-nos para uma situação destas. Por exemplo, em Novembro de 2018, organizámos, na Fundação Champalimaud, um exercício de resposta aos SARS-Cov, para o qual convidámos a directora geral de saúde, o presidente da Cruz Vermelha, o coordenador das vacinas, bem como a Marinha, GRN, PSP, Força Aérea, Protecção Civil, bombeiros e mais de 100 médicos de saúde pública a nível nacional, regional e local, a Direcção Geral de Alimentação e Veterinária e os Laboratórios do Estado (INSA e Laboratório Nacional de Veterinária). No total, reunimos cerca de 200 peritos num exercício no qual responderam a uma epidemia de SARS-Cov. Três meses antes da pandemia realizámos também o exercício Celulex em que o cenário escolhido foi a investigação de uma doença animal que se transmitia às pessoas. Na altura, esteve em Portugal uma equipa de oito pessoas da OMS a treinar.
São situações não são de rotina mas podem acontecer e ter uma escalada e efeitos enormes a nível mundial. A pandemia, por exemplo, colocou o petróleo com valores negativos e estima-se que a mortalidade seja de 18 milhões de pessoas no mundo. Neste sentido, é preciso haver entidades preocupadas com o estratégico e com algumas ameaças com pendor securitário, como a Covid-19. As ameaças biológicas quando surgem torna-se muito difícil perceber a sua origem. Normalmente, quando chegam, não há tempo para se formarem pessoas e peritos de modo a dar uma resposta oportuna, por isso, a importância da formação prévia e da experiência.
A primeira vez que fiz uma palestra sobre resposta e preparação a pandemias foi em Angola, em 2007, tendo publicado um capitulo de um livro relacionado com o tema. É importante perceber quando se reúnem condições para haver uma pandemia, perseguir esse objecto de estudo, desenvolver projectos de investigação, integrar redes internacionais de pessoas que estudam o mesmo e ganhar know how. Esse conhecimento é muito importante e coloca-se ao serviço de um país quando necessário.
Daí também a importância da realização de exercícios como o Celulex, que testam cenários que podem até nunca chegar a acontecer?
Os exercícios servem para identificar vulnerabilidades, resolve-las e testar os planos que existem. Na Covid, por exemplo, os planos de resposta que tínhamos, nomeadamente para o Ébola da DGS, permitiram-nos construir novos planos mais rapidamente. A resposta a um agente de guerra biológica ou bioterrorismo, se houver uma cadeia epidémica, é muito parecida. Ao preparamo-nos para estes agentes conseguimos estar muito mais bem preparados para epidemias naturais.
Há quem tenha comparado a pandemia a uma guerra…
Há questões a nível de mobilização de recursos, de ser algo extraordinário e da questão da unidade contra algo que motivaram essa analogia. Na pandemia morreram mais pessoas em menos de dois anos do que na I Guerra Mundial em Portugal ou na guerra de África. Nos Estados Unidos morreram mais pessoas em dois anos de pandemia do que na Guerra do Vietnam, Coreia e Segunda Guerra Mundial. Foi algo que matou mais pessoas do que as guerras. Olhando por essa perspectiva percebe-se porque se fez essa analogia.
Olhando para a actualidade, que ameaças temos a nível químico e biológico, que justificam a existência deste laboratório?
Falando de ameaças securitárias ao Estado e da human security (segurança das pessoas), dentro das biológicas temos as de ocorrência natural, acidental e intencional. Nas intencionais podemos ter ameaças encobertas, não declaradas. Ao contrário dos outros agentes como químicos ou radiológicos, que se surgem num determinado sítio que não é normal, facilmente se percebe que não teve uma ocorrência natural. No caso de uma doença infecciosa fica sempre a dúvida, ou seja, não se sabe se foi algo que apareceu na natureza e provocou uma epidemia, se foi acidental ou intencional. Daí que tenhamos de considerar estes riscos e ameaças de uma forma mais gradativa entre eles.
Além disso, é importante considerar não só as ameaças biológicas ao humanos mas também à fileira animal, ou seja, a produção animal, e também a produção vegetal e tudo o que tenha impacto no ambiente.
A nível internacional temos várias condições, nomeadamente a sobre população, as trocas comerciais e a mobilidade humana, em que o mundo está cada vez mais ligado, bem como a destruição dos habitats naturais, com mais contactos entre humanos e animais selvagens, que são reservatórios de algumas doenças, propicia a que ocorram mais estes fenómenos.
Acima de tudo isto, há uma camada relacionada com os avanços científicos e tecnológicos na área das ciências biomédicas e Biologia. Hoje consegue-se, de forma cada vez mais barata e fácil, manipular e sintetizar DNA e agentes biológicos. Estes avanços científicos e tecnológicos, embora benéficos para tratar doenças, tornam-se num risco se forem usados para fins não pacíficos. É nesta confluência que surge um paradigma novo de ameaças biológicas, do qual a pandemia já é um exemplo. Para o futuro temos de olhar para este problema e ter formas de minimizá-lo. No fundo, temos de estar atentos ao que se passa, minimizar as ameaças e encontrar formas de nos prepararmos e intervirmos nas situações de maior risco.
Como o mundo está muito interligado e dependente dos países com maiores vulnerabilidades nesse aspecto, tem de haver um reforço do multilateralismo e da cooperação internacional. No âmbito da CPLP, o Exército tem participado na área da biossegurança e bioprotecção.
Nesses países que refere, não há tantas condições de biosegurança?
Não é linear. Há países africanos que têm mais condições, com capacidades de sequenciação e laboratórios BSL 4, – mais do que em alguns países europeus. De qualquer forma, o que importa é o intercâmbio, onde os países aprendem uns com os outros.
É nesse seguimento de intercâmbio que surge a sua colaboração com este grupo de especialistas internacionais?
Trabalhamos neste assunto há muitos anos. No meu caso, há 15. O Exército participou, através do Centro de Investigação da Academia Militar (onde nos enquadramos na I&D), particularmente a Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química, em projectos de investigação e consórcios internacionais. Ao participarmos nessas reuniões houve um convite da OMS de integrar e uma call, tendo depois sido seleccionado muito pelo trabalho que temos desenvolvido aqui. É um mérito colectivo e não individual. e Esta nomeação resulta desta actividade desenvolvida no e pelo Exército, sendo que trabalho exclusivamente para o Exército.
Quando surgiu o convite?
Foi este ano, mas a colaboração com a OMS é longa. Temos participado no Framework de colaboração entre civis e militares na reposta a emergências de saúde pública. A OMS está focada nas emergências de saúde publica, não são uma organização com um mandato securitário. A actuação da OMS tem a ver com a saúde, mas há pandemias que podem ser resultado de acções intencionais. Portanto, é algo com que tem de se preocupar.
Na resposta a pandemias a OMS percebeu que era importante envolver os serviços de saúde militares, porque têm acervos importantes, como hospitais, equipas de resposta, logística rápida no caso de uma epidemia. Em 2017, a OMS organizou um exercício de reposta a um coronavírus em que juntou 50 países em que envolveram do Director geral de Saúde homólogo e os directores de saúde dos exércitos. Cada pais estava representado por duas pessoas com o objectivo de estimular essa colaboração. A OMS convidou-nos a participar como moderadores do exercício por conhecer o nosso trabalho nessa área.
Portugal é um dos países com mais tradição de colaboração entre civis e militares. Ainda hoje o concelho nacional de saúde pública integra sempre um militar.
A OMS, começou a trabalhar num framework de colaboração em 2017, tendo ficado concluído em 2021. Hoje é um guia de referência nessa colaboração, ou seja, como é que os países em resposta a emergências de saúde pública devem estruturar a colaboração entre entidades civis. O Exército participou na elaboração desse documento.
Já iniciou as suas colaboração no grupo?
Sim, já tive uma reunião em Outubro.
Tem alguma função específica no grupo? Por onde passa a sua colaboração?
Não há uma função especifica. O grupo é pluridisciplinar e lida essencialmente com a área de colaboração entre parte militar e civil. Por isso, se chama Health Security Interface, o interface entre o sector da saúde e o security. Há uma zona em que as entidades têm de colaborar operativamente. O grupo de trabalho visa apoiar a OMS com know how, pareceres e análises de lacunas, etc, neste interface, de forma a perceber quais as oportunidades e como devem ser estruturadas as acções.
Por exemplo, num caso de bioterrorismo não declarado, começam a aparecer pessoas ou animais doentes. Havendo pessoas doentes, as primeiras pessoas a ter contacto serão os profissionais dos hospitais que podem tratar a doença como algo normal e só depois podem perceber que pode ter havido uma causa intencional. É neste interface que se geram muito desafios, oportunidades e vulnerabilidades. O painel conta um conjunto de pessoas com experiências muito diferentes que podem colaborar de forma multidisciplinar para prestar esse apoio.
Como é feito esse cruzamento de informação, no caso de existir uma situação das que relata, e se consegue perceber que estamos perante uma situação de ameaça?
É um desafio grande. Mas há um conjunto de indícios que podem fazer pensar numa eventualidade dessas e que fazem iniciar respostas do sector da segurança. Não há um modelo porque o que pode acontecer é muito díspar, ou seja, o tipo de coisas que podem estar na base de uma situação destas é praticamente infinito, – é só imaginarmos como alguém pode disseminar uma doença.
Fundamentalmente, o nosso foco é na preparação, ou seja, temos de preparar-nos para responder em tempo oportuno de forma rápida e eficaz.
Mas existe uma ligação com a Direcção Geral de Saúde, no sentido de vos reportar dados e números que possibilitem essa análise?
Sim, temos um protocolo com a DGS e fazemos parte dos seus planos de contingência.
Percebermos quando uma situação pode ou não ser uma ameaça securitária é uma questão do awareness, da percepção ao nível da área da saúde. Devemos ter em atenção se é um agente novo que não existe em Portugal ou típico dos que já foram usados no passado de forma intencional ou se há presença de dispositivos que tenham sido encontrados ou, até mesmo, a declaração de um ataque. Há um conjunto de indícios que podem fazer pensar nessa hipótese e ao ser avaliada pode chegar-se a determinada conclusão.
Felizmente têm sido poucos os casos. Quando vamos analisar o risco, temos de olhar para a probabilidade e a gravidade de uma situação. Na verdade, apesar de ser uma ameaça pouco provável, os efeitos são de tal forma catastróficos que na avaliação de risco, são riscos que têm de ser tidos em conta, mesmo que a probabilidade seja muito baixa. Como vimos na Covid-19, uma doença espalha-se para a comunidade rapidamente a nível mundial.
A Austrália é um bom exemplo de um país muito peculiar a esse nível, tendo imensas restrições e limitações a tudo aquilo que entra no país, especialmente de origem animal.
É verdade. As coisas que já lá chegaram foi catastrófico. É uma ilha que se manteve isolada muito tempo, desenvolveu espécies endémicas e, por isso, fazem tudo para prevenir espécies infectantes ou agentes que podem provocar epidemias ou epizootias dentro do pais. Sabem que o esforço da prevenção compensa claramente. Quando vemos que o que se gasta a responder a estas ameaças são valores de tal forma grandes que se aumentarmos dez vezes o que gastamos nas áreas da prevenção, como sistemas de vigilância e laboratórios, conseguimos conter as coisas antes de escalarem e pouparem o trabalho a seguir.
Mesmo na questão da gestão da pandemia, a Austrália teve uma politica muito restritiva…
Sim, a pandemia é um bom exemplo das medidas que podemos adotar. Podemos ter medidas mais drásticas quando os casos estão no mínimo, e não no máximo. Se pensarmos num pais, ao isolarmos as pessoas quando estamos no topo de casos, a eficácia desse isolamento é mais reduzido. Se fizermos, como em alguns países, um encerramento de tudo quando os casos ainda estão no mínimo, por exemplo, erradicamos a doença de forma mais eficaz. Não digo que deva ser assim, mas no controlo destas doenças devemos ponderar diferentes formas de gestão da situação.
É um desafio que a comunidade cientifica tem neste momento, ou seja, olhar de forma muito séria e perceber a eficácia das várias medidas governamentais e o efeito que tiveram na redução do RT. A nível do controlo o mundo não foi igual. Na China por exemplo, em 2021, morreram duas pessoas.
Houve diferentes respostas à pandemia a nível mundial.
Sim. Na verdade, o mundo não reagiu de forma homogénea. Houve decisões diferentes de países para os outros e isso teve consequências na doença, no número de mortos e económicas. Agora devem ser estudos os efeitos a médio e longo prazo. Ainda não conseguimos dizer qual a melhor resposta. O próprio director geral da OMS disse que temos de analisar as respostas e ver os efeitos das várias medidas tomadas e perceber qual a melhor modalidade.
Se gosta desta notícia, subscreva gratuitamente a newsletter da Security Magazine.